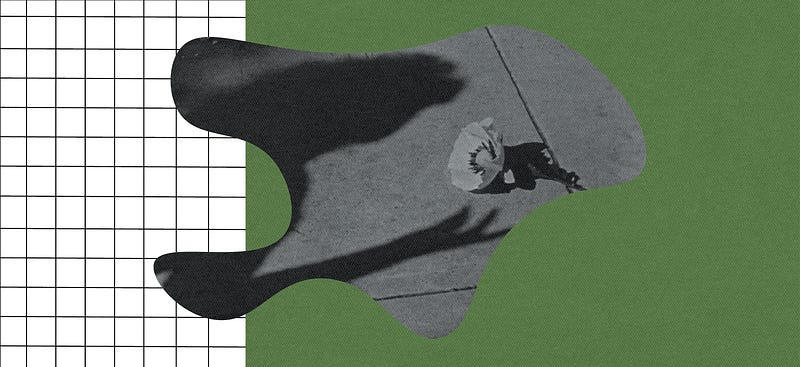
O filme de Maya Deren, Meshes of the afternoon, é pioneiro na discussão sobre o sujeito cinematográfico que permanece preso nos olhos de quem mostra
Por Bianca Ayuri
O filme “Meshes of the afternoon”(1943), dirigido e estrelado por Maya Deren, com a fotografia de seu então marido Alexander Hammid, é um marco na história da cinematografia experimental norte-americana. A possibilidade de que essa seja uma autobiografia narrativa experimental gera a grande questão que circunda o filme e é um dos motivos pelos quais Deren é hoje vista como “A mãe do Avant-garde”.
Este, por sua vez, é um termo problematizado, tanto pela caracterização histórica questionável de Deren como representante de um movimento artístico majoritariamente masculino e de um posto que lhe foi negado logo no início pela rejeição misógina da crítica, como que pela incapacidade deste movimento e de outros da época, como as vanguardas europeias, de abarcar toda a discussão de gênero proposta nos filmes de Maya. Contudo, o filme de fato experimentava com as questões formalistas comuns à vanguarda estadunidense — uma vez que a própria Maya era integrante do grupo Amateur Cinema League — e é possível notar um diálogo com o modernismo cinematográfico europeu tanto no que tange à forma quanto ao conteúdo surrealista.
Nesse sentido, é inegável a inovação estética do filme, desde seus whips dentro de povs, até seus ângulos de câmera que, aliados à interpretação de Deren, permitiam uma trucagem que passa a ideia de que o ambiente como um todo está girando, bem como do uso da projeção do filme em reverso e invertido horizontalmente — a cena da queda da chave pela escadaria –, em um jogo com a imperceptibilidade dos match cuts. E, apesar de não utilizar-se do advento do som em seus primeiros anos de projeção — recebeu uma trilha sonora composta por Teiji Ito posteriormente –, sendo um filme silencioso e em branco e preto, Deren infla as possibilidades da câmera, defendendo o pró-amadorismo e o uso instrumental do corpo humano em oposição à fixação dos tripés, característica das grandes produções comerciais.
A narrativa é outro ponto em si de destaque. A cena de abertura demonstra, de forma simples, porém potente, a entrada em um mundo subliminal: um braço de manequim se estende do topo da tela, segurando uma flor de plástico que deposita sobre o chão de concreto, logo desaparecendo, deixando apenas seu rastro para trás. Na sequência, acompanhamos uma mulher (Maya Deren) seguindo por esse caminho de concreto até a entrada de sua casa, que assumimos lhe pertencer uma vez que ela revela trazer consigo a chave da porta.
Entretanto, ao entrar, ela olha ao redor com estranheza para as pequenas coisas fora do lugar, indicativas de que outra pessoa esteve no local — como se demonstrará, a presença era de suas duplicatas que logo reaparecerão. Ela senta-se na poltrona e cai no sono, ao passo que novas versões de si fazem o mesmo caminho pela rua e pela casa numa repetição ritualística que se torna cada vez mais ameaçadora para a versão original, adormecida na poltrona. A narrativa então deflagra o ambiente onírico nessa inescapabilidade e na presença da figura com um espelho no lugar do rosto. O ápice se dá quando a protagonista recusa o reflexo masculino criado de si (Alexander Hammid), destruindo-o e matando sua versão original que dormia.
A própria história abre muitas possibilidades de interpretação, possuindo um final duplo, mas a discussão que creio mais interessante é aquela que aponta Meshes como uma autobiografia fílmica. Nesse sentido, pode-se compreender a dramatização como um pulo de Deren dentro de questões que circundam o próprio inconsciente. Levando em consideração o contexto histórico do afloramento da psicanálise e sua alta difusão no meio artístico através da vertente surrealista, com a obsessão pela temática do sonho por artistas como Buñuel e Dalí — em 1929, no ápice das vanguardas europeias, lançaram Um Cão Andaluz –, não é mal colocada a ideia de que a narrativa serve à discussão da (auto)subjetividade.
Sob a lente autobiográfica, Meshes se torna uma expressão ativa de um Magritte, exceto que perpassado pela questão central da particularidade de gênero. A partir daqui, compreende-se a busca de Deren pela resposta à possibilidade de uma subjetividade feminina, impossível a si, uma vez que sua autoimagem, diferentemente do sujeito único, o inteiro maculino, estaria separada em várias, nos contando a história do “sexo partido”. Há a problematização do aparato cinematográfico, feito por e para o olhar masculino — como bem demonstrado por Žižek* –, dentro do qual a imagem feminina seria sempre a representação objetificada no olhar do sujeito psicanalítico, sempre masculino. Deren faz então um uso irônico dos meios sexistas para demonstrar a incapacidade do meio cinematográfico de conter sua subjetividade e, por extensão, a subjetividade feminina, uma vez que viciado, assim como a psicanálise, a tratar de um sujeito. Ela joga com o complexo de Édipo que não pode contemplar-lhe como centro do questionamento psicanalítico.
Portanto, ao não permitir que seu reflexo se concretize no filme, Deren alude aos pedaços de mulher representados na grande tela e na sociedade para o desejo masculino e como, sendo essa a expressão do discurso ideológico a que está sujeita, torna-se incapaz de compreender a própria imagem para além destes termos. Aqui, o diálogo com a indústria cultural é bem direto no que tange à inescapabilidade reflexiva da ideologia vigente, apesar de não planejado — as teorias frankfurtianas apenas se voltariam para as questões de gênero a partir do revisionismo das décadas de 60. Contida nessa discussão ideológico-existencial do filme, está a expressão daquilo que virá a ser o feminismo de segunda geração dos anos 1960, debatendo questões do machismo estrutural por trás de toda instituição de uma sociedade patriarcal, incapaz de contemplar a subjetividade feminina.
Compreende-se, portanto, a importância de ler o filme como uma autobiografia que experimenta também no campo filosófico; daí Deren não nos levar apenas para dentro da psique de sua personagem, mas para dentro do aparato da câmera propriamente- falo da cena em que adentramos o cilindro da lente enquanto Maya observa-se correr na rua. Aqui, ela nos mostra o processo dialético de ser tanto a interlocutora quanto o assunto. Assim, ela atinge o ponto de virada em que o sujeito se torna o objeto, percebido quase que indiferentemente aos outros objetos da casa como a chave e o telefone fora do gancho, possuindo uma razão insuficiente para lhes conferir estatuto de sujeito.
Se por um lado o filme é bem específico sobre a identidade de Deren e o espaço que lhe era permitido dentro do cenário avant-garde norte-americano, por outro, a questão da subjetividade feminina negligenciada e forçada à ideologia falocêntrica torna Meshes impessoal na medida em que é crítico de uma sociedade misógina experimentada por qualquer um que não seja contemplado pelo sistema. Portanto, a realização de universalidade não diz respeito apenas à objetificação da personagem por si mesma enquanto autora, mas de todas as mulheres objetificadas pela representação que segue a práxis falocêntrica.
Enquanto Maya observa a si mesma entrando na casa — algo subentendido pelo enquadramento da câmera subjetiva, próximo do god’s view que será popularizado por Hitchcock –, ela dá início a esse ritual do sexo partido que nunca pode ser unificado em uma única imagem coesa, pois o protagonismo desta imagem não seria compatível com a marginalidade do sexo partido. É arquetípico da caracterização a que está presa, uma vez que é definitivo de sua psique.
É neste sentido que Meshes realiza a filosofia cinematográfica de Deren de utilizar pedaços da realidade e expandir suas manifestações para criar uma realidade distinta**; única para o mundo do filme. E isso, sejamos francos, é uma manipulação magistral da ideologia e do filme filosófico narrativo que consegue, primeiramente na superfície, dramatizar a história de uma personagem, depois, metalinguisticamente, discutir a imagem da própria diretora e do arquétipo do sexo partido, e, no cerne absoluto, articular a filosofia, ou melhor, a ideologia defendida por Maya em se tratando da Arte do Cinema.
*Žižek se aprofunda no assunto em “The pervert’s guide to Cinema” (2006), tendo os filmes de Hitchcock como grande exemplar disso.
** Deren fala sobre em seu “Cinematografia: O uso criativo da realidade”.
Bianca Ayuri é ume montadore de filmes e editore de vídeos, atualmente cursando Cinema na Faculdade Armando Alvares Penteado. Quando adolescente, passou pelo Centro de Audiovisual de São Bernardo (CAV) e vem produzindo conteúdo desde então. Hoje, monta seu curta mais recente, “Ninguém Derruba o Titã”, que co-dirigiu com Pedro Jordaim.
REFERÊNCIAS
DEREN, Maya. “Cinematography: The Creative Use of Reality.” Daedalus, vol. 89, no. 1, The MIT Press, 1960, pp. 150–67. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/20026556>.
GELLER, Theresa L. “THE PERSONAL CINEMA OF MAYA DEREN: ‘MESHES OF THE AFTERNOON’ AND ITS CRITICAL RECEPTION IN THE HISTORY OF THE AVANT-GARDE.” Biography, vol. 29, no. 1, University of Hawai’i Press, 2006, pp. 140–58. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/23541020>.
ŽIŽEK, Slavoj; FIENNES, Sophie; FIENNES, Magnus. The pervert’s guide to Ideology. Channel 4 DVD, 2013.