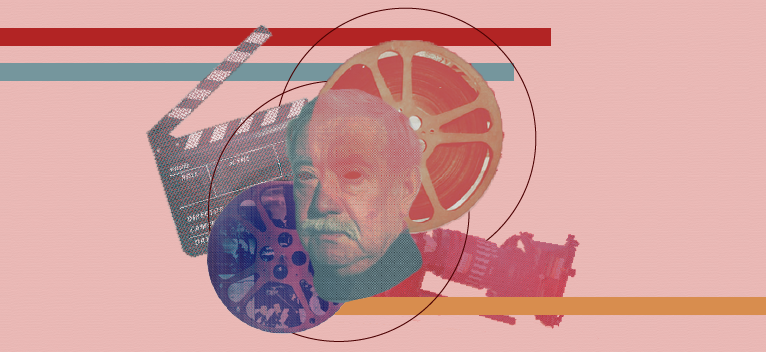
Por Davi Galantier Krasilchik*
Nascido em 1941, no Chile, Raúl Ernesto Ruiz Pino foi um diretor que sempre buscou ultrapassar as normatizações do uso cinematográfico. Dono de uma vasta filmografia, cuja amplitude engloba de magnéticos exercícios de linguagem a documentários que flertam com temáticas sociais, o diretor ainda não obteve todo o reconhecimento que sua assinatura deveria receber, embora não sejam poucos os críticos cinematográficos que destacam a sua fundamental influência.
Hábil na harmonização de comentários políticos às grandes libertações linguísticas que constrói nas telas, muitas das criações do cineasta se permitiram flertar com transformações históricas que circundaram a sua vida, entre as quais chama primordial destaque a volatilidade dos governos chilenos que acompanhou. Provavelmente a mudança que mais afetou a sua carreira foi o golpe que instituiu um regime ditatorial em seu país natal, perpetuado em 1973, evento que o forçou a se exilar na França durante vários anos. Nesse processo, e tendo o costume de explorar outras nações desde a juventude, as obras de Ruiz acabaram adquirindo uma grande universalidade, produzidas, performadas e mesmo tematicamente planejadas em função de diferentes línguas e formas de organização.
De difícil classificação, há quem classifique os verdadeiros enigmas de sua direção como mapas, imagens cartográficas próprias, totalmente desvinculadas de qualquer estratagema de estruturação narrativa anteriormente proposto. Quem desenvolve essa tese é o estudante inglês Michael Goddard, em seu artigo “Cartografias impossíveis: decifrando o cinema de Raúl Ruiz”, no qual ele busca compreender o ordenamento próprio de algumas das obras assinadas pelo último. De modo geral, o autor defende a marca de Ruiz como sustentada pela relativização frequente de pontos de vista e a percepção desses mesmos voltada a espaços. Por desrespeitarem completamente, todavia, o vínculo com quaisquer formas de realismo geométrico na composição de seus planos, romperem com artifícios de continuidade e abrirem mão da condução tradicional por protagonistas, entre outros pontos de ruptura, ele alega que o cinema de Raul flerta com uma mapeamento impossível, dentro do qual são encontradas infinitas possibilidades.
Embora seja minimizante classificar algumas de suas obras mais documentais como “surrealistas”, por outro lado seria um equívoco ignorar as inúmeras relações que muitas delas estabelecem com os princípios da vanguarda fílmica, oferecendo, inclusive, novas perspectivas para muitos de seus fatores essenciais. Essas últimas, todavia, jamais devem ser entendidas como um afastamento, haja visto, por exemplo, a essência compartilhada entre surrealistas mais clássicos, caso de Luis Buñuel — dono de críticas ideológicas ferrenhas conforme demonstra o importante “O Anjo Exterminador”, entre outras de suas obras -, e as modernizações de Ruiz para tecer relevantes comentários socioculturais.
Seja pela própria extensão temporal de sua produção — falecido em 2011, o diretor teve a sua última obra completamente finalizada, “Night Across The Street”, lançada em 2012 -, que inevitavelmente o agraciou com alcances técnicos inéditos aos primeiros filmes surrealistas, ou mesmo pelo contato com esses exemplares anteriores que lhe forneceram novos caminhos de desconstrução, a grande particularidade de seu cinema talvez esteja, de maneira até grosseira, na manipulação plástica com a qual tece verdadeiras pinturas em movimento. Para além dessa descrição simplista, entretanto, deve-se esclarecer que a mesma dialoga naturalmente com a atmosfera onírica semeada através da grande maioria de seus filmes, justificada pela subjetividade da maneira como as personagens dialogam com os espaços em suspensão ao seu redor, e bem como graças ao comum discurso que questiona a própria existência das manifestações artísticas.
Em relação à essa última, chama bastante atenção um de seus mais metalinguísticos filmes, “A Hipótese do Quadro Roubado”, longa lançado em 1978 e que originalmente seria estrelado pelo famoso escritor francês Pierre Klossowski, conforme Goddard explica em seu texto. Reconhecido por seus estudos acerca de técnicas de pinturas pictóricas, o último dispunha de reflexões temáticas acerca das relações entre o homem e arte que em muito se assemelhavam aos ideais de Ruiz, o que motivou a parceria que daria vida a esse interessante experimento que fratura diversos procedimentos de nossa percepção imaginária voltada à obras de arte.
Embora o fruto final dessa dupla — a partir do qual se desenvolveria o longa em si — tenha sido um conjunto formado por um roteiro inacabado e um conjunto de pinturas falsas feitas pelo próprio Klossowski — e que no campo fictício são atribuídos ao artista do século XIX, Tonnerre -, a obra nada mais é do que uma ode ao fazer artístico. Operado pelos meambros do psicológico de Raul Ruiz, o filme se move como uma espécie de brincadeira acerca da necessidade universal de significação de símbolos, elegendo a tal coleção de pinturas como plataforma para a costura de um interessante experimento da relação entre artista e espectador.
Para tal, acompanhamos a tentativa de um narrador físico — um professor interpretado por Jean Rougeul que é atormentado pela ânsia de compreender a unicidade que unifica os sete quadros apresentados -, que se metamorfoseia em uma narração em off também diegética e se transforma em um sedutor jogo acerca da tentativa de significação das representações que nos são apresentadas.

Nesse viés, não são poucas as questões levantadas. Tais figuras se bastam por si só, ao representar uma cerimônia? Ou seriam aqueles imbuídos de lhe conferir sentido, nesse processo próprio, os grandes performances desse cerimonial? Disposto a dialogar com a própria consciência, é por esse caminho que o colecionador nos conduz, esmorecendo cada vez mais as leis da possibilidade à medida em que cede aos mecanismos de sua cabeça.
Nessa mesma discussão, são válidos também os paradigmas acerca da imortalização da imagem, no sentido em que a construção dessas mesmas transgride as possibilidades de preservação de momentos destinados a avançar através do tempo. Um dos mais notórios nomes que escolheu se debruçar sobre esse limiar tênue foi o do pensador Roland Barthes, que ao discorrer sobre “A Câmara Clara” reconhece um certo misticismo decorrente da Fotografia em função da sua incapacidade de realmente imortalizar o momento retratado. Afinal de contas, esse último permanece se deslocando através do tempo logo após o clique da câmera, permitindo a esse último preservar uma mera reprodução mecânica da cena escolhida. Se pensarmos na arte como um todo, e atribuir essa mesma discussão dimensões oníricas provenientes do surrealismo, processo semelhante é retratado nas encenações cênicas de “A Hipótese do Quadro Roubado”. Quanto mais embasadas se tornam as sugestões e teorias do colecionador, que nos convida a adentrar um labirinto que se confunde entre a estaticidade das pinturas e a volatilidade da mise en scene cinematográfica, mais surreais as mesmas se tornam, se deslocando do real e se cristalizando como uma iconografia fantástica.
Desse modo, a arquitetação gradativamente mais desconexa de um plano atrás do outro passa a dialogar diretamente com a busca ali performada, da mesma forma que o caminhar da câmera, decupando os elementos apresentados pelas telas pintadas, evidência os ingredientes de todo o experimento apresentado. Tem-se assim, nas mãos de Ruiz, uma obra que se auto desmonta, graças às liberdades permitidas pela mente, evidenciando truques e jogos de luz, a disposição de objetos cênicos, entre tantas outras ferramentas, para discorrer sobre a arte e seu diálogo com o imaginário humano.
Se esse “contido” projeto já revela inúmeros contornos da imaginação de Raul, outro imensurável exemplo está em “Cidade dos Piratas”, um dos vários exemplares do diretor no que tange ao sua linha voltada à “pirataria”. Para além dos arquétipos convencionalizados, entretanto, o interessante aqui é perceber como a direção expande esse uso para discorrer, em um campo obviamente dúbio e extremamente metafórico, acerca de diferentes tópicos que orbitam a relação entre o homem e a vida.
Escolhendo o mar como principal representante da natureza com a qual buscamos nos conectar. são incontáveis as ferramentas aqui utilizadas para o cancelamento das estruturas padrões de operação. Seja pela inserção de um rádio que, mesmo em um ambiente que unifica três personagens, só é escutado por apenas uma delas — sugerindo um estado mental bastante particular assumido pela mesma -, pela inversão do avanço natural de ondas que ocupam o fundo de um quadro — que retrocedem enquanto duas figuras procedem normalmente em seu diálogo -, ou mesmo por artifícios até mais performáticos como uma oração que inicia uma ventania e permite a flutuação sobrenatural de objetos, todas incorporam, de alguma maneira, uma tentativa de um estado mais disruptivo da mente dialogar com aquilo que a permeia.
Um momento que registra isso magnanimamente é o que a personagem Isidore, atormentada por memórias do passado, observa a água através de uma janela entreaberta. O avançar da câmera antecipa seus anseios e se projeta sobre o pequeno vão, traduzindo anseios construídos pela mente que mais tarde se confirmam em uma tentativa de suicídio. Por mais simplório que tal manuseio de linguagem possa parecer, impressiona a forma como o mesmo ainda divide seu espaço com outras figuras — cada uma completamente à mercê em seu próprio universo cerebral -, mas sem ignorar a importância da moça ali em cena, que abruptamente fecha a janela em uma tentativa de batalhar contra seus demônios.
Mais tarde, Ruiz ainda nos impressiona com um inteligente jogo de sombras, símbolos já tradicionalizados mas que aqui, impressos em tecidos, paredes e móveis que compõem brilhantemente enquadramentos, atuam como vestígios deixados por nossas vivências em nossas vidas.

Sendo assim, o diretor demonstra todo o seu brilhantismo por transitar como poucos entre artifícios simples e outros mais elaborados, unificando os dois tipos sem jamais perder a unidade onírica de suas obras. Dono de uma coleção vasta e que deve ser decifrada com um olhar bastante cuidadoso e detalhado, o chileno atualiza, por meio de incontáveis aplicações, o Surrealismo no cinema, para jamais ser esquecido nesse meio artístico. Afinal de contas, em uma livre interpretação de suas próprias palavras, segundo as quais nada do que vemos é totalmente inédito e em nossas criações sempre reproduzimos resquícios de algo já visualizado, sua rica assinatura estará preservada para muito além das obras que compõem a sua própria cinematografia.

Fontes:
https://academic.oup.com/screen/article-abstract/61/4/568/6146280?redirectedFrom=fulltext
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1994/8/05/ilustrada/6.html
https://www.olhardecinema.com.br/raul-ruiz-e-dialogos-no-exilio/
https://www.themoviedb.org/person/121585-raul-ruiz
https://seer.ufrgs.br/EmQuestao/article/view/39941/31542
SILVA, M. A. DA. BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. Revista Cronos, v. 1, n. 1, p. 107–108, 1 nov. 2016.